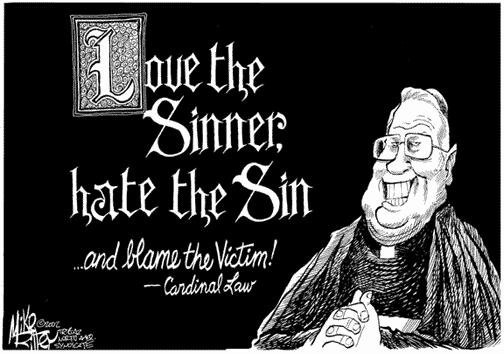Marie-Therese, Tom Hayes e Paddy Doyle estão entre os milhares de vítimas de abusos nas escolas industriais geridas por religiosos na Irlanda do século XX e exigem mais 600 milhões em indemnizações das congregações da Igreja. Isto numa altura em que o país se prepara para um segundo relatório sobre abusos a crianças, depois da divulgação, em Maio, do relatório Ryan.
A capa impermeável azul escura às bolinhas brancas trava-lhe o passo apressado. Ansiosa por alcançar a escola, como uma criança da primária, Marie-Therese O'Loughlin chega ligeiramente atrasada à aula de Matemática para adultos na Larkin Community College de Dublim. Aos 58 anos, está a aprender a fazer contas e a tentar recuperar o tempo perdido. Os anos que passou na escola industrial de Goldenbridge, durante a infância, não foram dedicados ao estudo. "As crianças passavam os dias a fabricar rosários que depois eram vendidos em locais de culto. Além disso éramos obrigados a lavar pilhas de roupa suja, lençóis, as fardas das freiras. Os que nunca tinham visitas, como eu, eram crianças prisioneiras. Havia outros, com mais sorte, que eram autorizados a frequentar a escola nacional. Eu tentava ler os placardes de publicidade que via nos edifícios, mas quando saí de lá praticamente não sabia ler nem escrever", conta, com visível mágoa e marca psicológica por tudo o que passou. Marie- -Therese está entre os milhares de pessoas que sofreram agressões físicas e abusos sexuais em estabelecimentos de ensino estatais geridos por congregações religiosas na Irlanda do século XX. Não aceita, por isso, que o relatório Ryan, divulgado em Maio, após nove anos de investigação, sobre um período de seis décadas, "classifique como trabalho infantil aquilo que mais não era do que escravatura".
As escolas reformatórias e industriais acolheram, até fecharem, nos anos 90, mais de 30 mil crianças ditas malcomportadas ou vindas de famílias disfuncionais, o que muitas vezes poderia simplesmente significar que eram filhas de mãe solteira. Este era o caso de Marie--Therese, cuja mãe, Johanne Karma, vinda de uma zona rural, em Wexford, decidira dar à luz a criança na capital irlandesa para não ser apontada na sua terra natal. A Irlanda era e continua a ser um dos mais fervorosos países da Europa. A bebé nasceu na maternidade Regina Coeli, onde, aos 18 meses, caiu dentro de uma lareira, ficando com marcas na pele que ainda hoje são visíveis. Aos quatro anos, foi entregue a Goldenbridge, por ordem do tribunal. Ali foi--lhe dito que a mãe morrera. E ela acreditou. "Ainda cheguei a sair uma vez, na primeira comunhão, com uma família de acolhimento, que depois me abandonou. Entre os nove anos e os 16, quando saí dali, nunca mais vi o mundo exterior. Éramos obrigadas a fabricar seis dezenas de contas de rosário por dia porque senão batiam-nos. Todas as manhãs havia uma irmã que obrigava todos a levantarem-se e, se alguém fizera xixi na cama, levava", explica, descrevendo um quotidiano de horrores na escola gerida pelas irmãs da Misericórdia.
Habitualmente mal vestidas, higienizadas, alimentadas, as crianças estavam sempre impecáveis no dia em que o inspector visitava o estabelecimento de ensino. "Ele não falava connosco, nós também não tentávamos falar com ele, não sabíamos que tínhamos direitos e vivíamos no medo", precisa, acrescentando que, quando os homens que trabalhavam lá abusavam sexualmente dela, atrás do palco, a troco de doces, "também achava divertido porque era pequena e não sabia que estava errado".
Tom Hayes, que foi entregue pelo tribunal aos dois anos e meio de idade, também viveu tempo na crença de que a mãe morrera. "Eles diziam isso que era para ninguém fazer perguntas, escrever cartas, era mais simples. Os órfãos eram os mais agredidos de todos porque não tinham ninguém a quem se queixar", conta, enquanto bebe um café misturado com coca-cola num dos hotéis mais antigos de Dublim. E exibe uma cópia da sua ordem de internamento, primeiro na escola St. Joseph, em Killarney, depois noutra com o mesmo nome, mas em Glin, Limerick. Ao longo de décadas de desconfiança, secretismo, cumplicidade entre Estado, Igreja e sociedade, Tom, de 63 anos, ganhou a mania de comprovar com documentos tudo o que diz.
"Na segunda escola em que estive, gerida pelos irmãos Cristãos, tínhamos algumas aulas, trabalhávamos na quinta, os mais crescidos na loja de sapatos. Éramos 200 rapazes, dormíamos 30 a 40 no mesmo dormitório e, aí, à noite, era frequente os monitores e vigias, mais velhos, abusarem dos outros. Noutras ocasiões isso acontecia quando estávamos a brincar no jardim. Às vezes havia um, dois ou três rapazes a tentarem abusar sexualmente de uma outra criança, éramos enconrajados a fazer parte de gangues e a aceitar ser violados."
Entre 1954 e 1962, dos oito aos 16 anos, nunca saiu da escola para fora e das vezes em que fez queixa dos abusos aos religiosos ainda recebeu mais ameaças dos colegas. Nada foi feito. "Quando saí não sabia ler, nem usar um telefone, lia devagar, não tinha capacidade de relacionamento social. Mais tarde tive seguimento médico, ajuda de um psicólogo, mas aquilo nunca desapareceu. Os abusos continuam connosco, a assustar-nos, a aparecer nos pesadelos. Não há volta a dar: uma vez abusado, é-se marcado para toda a vida", desabafa, enquanto o olhar longínquo e lacrimoso denuncia que foi subitamente transportado para o passado.
Tom Hayes e Marie-Therese vieram a descobrir, posteriormente, que as suas mães não tinham morrido e que, apesar de nunca receberem visitas, tinham família. "Quando saí da escola andei, durante muito tempo, numa vida sem sentido. Até cheguei a usar nomes falsos, a inventar referências para ir trabalhar como au pair na Suíça, mas depois de ter sido descoberta fui internada num hospital psiquiátrico e deportada. Nessa altura, porém, já não tinha medo das ameaças das irmãs de Goldenbridge e fugi, viajando, à boleia por toda a Europa. A certa altura, quando vivia em Londres, numa pensão, fui ajudada por um padre, que me levou a um psicólogo", recorda, dizendo que começou a rir quando este lhe pediu para falar de si e da mãe.
"Eu não sabia quem eu era e muito menos o que era uma mãe." A única coisa de que tinha memória era a casa da família de acolhimento que em tempos a rejeitara. "Voltei à Irlanda e fui bater à porta deles. Pedi explicações e eles, então, levaram-me até um bar em Wexford. Fui apresentada a um homem que era meu tio, que não sabia que eu existia e ficou em estado de choque. Ele contou que a minha mãe casara com outro homem e vivia em Birmingham. Eu passei-me por saber isso e voltei a ir-me embora para Londres." Quando lá estava, na pensão, recebeu um telefonema da mãe a pedir- -lhe perdão. "Foi em Agosto de 1979", diz, acrescentando que "ela morreu em 1990".
Mais recentemente, em 2007, enquanto dormia à porta do Parlamento irlandês, Dáil, para exigir que lhe seja paga também uma indemnização pelo que lhe fizeram na maternidade Regina Ceoli, descobriu que tinha uma irmã. "A mulher ficava ali, a olhar, mas não dizia nada. A seguir mandou-me um e-mail a dizer que também ela era filha de Johanne Karma, mas que, ao contrário de mim, tinha sido adoptada. Agora tem quat-ro filhos. E eu não tenho nada, nunca estudei nem trabalhei, fui declarada inválida e sofro de stress pós-traumático", exclama, confessando que, até agora, ainda não arranjou coragem para se encontrar com a meia-irmã.
Tom, pelo contrário, já conheceu a família que tem do lado da mãe, em 2003. A Alliance Victim Support Group, de que faz parte, recebeu uma carta de um primo a perguntar por ele. "A família sempre soube que a irmã da mãe dele tivera um filho, mas não sabiam onde ele estava. Foi assim que descobri que a minha mãe fora viver para Inglaterra e tivera mais dois filhos e duas filhas. Conheci-os todos, há seis anos, tenho tios e tias, sobrinhos, em Limerick, Cork, Liverpool, até nos EUA", explica. Sobre o seu pai nunca descobriu nada.
Casado e com dois filhos, Tom vive actualmente em Armagh, na Irlanda do Norte. É reformado do Exército britânico, a tábua de salvação que encontrou depois de um passado errante em hotéis irlandeses, onde trabalhou depois de deixar a escola gerida pelos irmãos Cristãos. Agora prepara-se para ir ao Supremo Tribunal, com as suas próprias provas, porque o relatório Ryan não serve de prova. Apesar de tirar conclusões contundentes, a comissão do juiz Sean Ryan, que ouviu 1090 testemunhas, atribuiu pseudónimos a todos os alegados culpados de abusos.
Noutra ponta de Dublim, Paddy Doyle, que aos 58 anos tem que lidar não só com as memórias de agressões físicas e abusos sexuais, mas também com a deficiência a que uma operação malfeita o votou, explica que é indecente ser o dinheiro dos contribuintes a pagar a maior parte das indemnizações que têm sido atribuídas às vítimas. Activista de direitos humanos e defensor do uso da marijuana para fins terapêuticos, Doyle está numa cadeira de rodas desde os dez anos. Nessa altura, as freiras da escola St. Michael em Cappoquim, que lhe batiam a torto e a direito, fosse por ele urinar na cama, por dizer que vira um homem enforcado ou por não ter polido bem o chão, levaram-no ao hospital porque ele arrastava um dos pés. "Algum médico decidiu que o que tinha nos pés estava relacionado com o sistema neurológico e operaram-me, 11 vezes, ao cérebro. Eu conseguia andar antes da primeira operação, mas, depois dela, as minhas pernas começaram a fazer coisas que eu não queria e, de um momento para o outro, já nada funcionava", conta, explicando que, dos oito aos 18 anos, a sua vida foi passada em hospitais. "Nunca mais recebi a visita das freiras, elas deviam fazer o papel dos pais, mas os pais não fariam isso", lamenta, durante uma conversa no jardim do hotel que fica perto de sua casa.
Mas eis que, ao atingir a maioridade, um anjo apareceu na sua vida. "Fui adoptado por uma mulher viúva, que já tinha sete filhos dela, mas não se importou com a minha deficiência. Ela encorajou-me a fazer coisas que não fazia, por medo dos outros, como estudar, andar de autocarro. Foi então que passei a fazer tudo como os outros adolescentes: bebia, fumava, saía à noite, cortejava raparigas." E numa dessas noites de borga, quando tentava entrar numa discoteca, conheceu a futura mulher, uma enfermeira. "O dono da discoteca não me deixou entrar e eu fiquei à por- ta a protestar durante três noites. No final, já com os media lá, obriguei-o a dizer que nunca mais discriminaria ninguém pela deficiência", conta o activista, hoje com três filhos e dois netos.
O único parente mais próximo dos pais que conheceu, há 20 anos, foi um tio. "Eu andava a dar entrevistas na televisão por causa do livro que escrevi, alguém viu e ligou-me a dizer para ir visitá-lo, porque ele estava no hospital muito mal. Não consegui muita informação dele, pois era velhote, doente, só chorava. Mais tarde descobri que o homem enforcado de que me lembrava era o meu pai, que cometeu suicídio depois de a minha mãe ter falecido de cancro na mama. Mas, curiosamente, até hoje não consegui descobrir onde estão enterrados, porque na terra, em Longford, ninguém me diz."
Paddy é uma das vítimas de abusos que sobreviveram e ultrapassaram os obstáculos com muita coragem, diz Mary Raftery, jornalista freelancer, cujos documentários, States of Fear, em 1999, destaparam publicamente o escândalo de que muitos falavam em surdina. O seu trabalho obrigou o então primeiro--ministro irlandês, Bertie Ahern, mais as congregações religiosas, a pedir desculpas. Foi estabelecido um sistema de indemnizações, de apoio às vítimas, mais uma comissão de inquérito. O problema é que o Governo pagou, com dinheiro dos contribuintes, a maior parte dos 1,3 mil milhões de euros de indemnizações e as congregações só pagaram, até agora, 128 milhões. As vítimas exigem, por isso, que elas lhes paguem directamente metade do que o Governo pagou, ou seja, mais 600 milhões de euros. "Julgo que a educação que não tiveram foi aquilo que fez maior mossa. O departamento da Educação sabia que existiam queixas e também nunca fez nada. Quando investiguei, passei meses a tentar que as pessoas falassem comigo e, nalgumas aldeias, muitas admitiram que ouviam as crianças a gritar à noite. Quando perguntei porque não fizeram nada, essas pessoas responderam que não sabiam o que fazer, o que dizer, pois a Igreja era o poder", conta Raftery, considerando que tanto cidadãos como governantes tiveram, durante muitos anos, uma posição pró-católica. "A sociedade irlandesa colocou a Igreja num pedestal e achou que ela não podia fazer mal a ninguém."